O ARDIL
Guy de Maupassant
O velho médico e a jovem doente palestravam ao pé da lareira.
Ela estava apenas pouco incomodada, com essas indisposições femininas que as mulheres bonitas têm, às vezes: um pouco de anemia, de nervos, um bocadinho de fadiga, dessa fadiga de que costumam sofrer os recém-casados ao fim do primeiro mês de união, quando se casam por amor.
Ela, estendida no sofá, conversava:
“Não, doutor, nunca compreendi que uma mulher enganasse o marido. Admito mesmo que não goste dele, que não cumpra suas promessas, seus juramentos! Mas como ousar dar-se a o outro homem? Como esconder isso aos olhos de todos? Como poder amar com mentira e traição?”
O médico sorria.
“É fácil. Garanto-lhe que pouco nos detemos em todas essas sutilezas quando nos invade o desejo de pecar. Tenho mesmo a convicção de que uma mulher não está madura para o verdadeiro amor senão depois de ter passado por todas as promiscuidades e por todos os fastios do casamento, o qual não é, segundo um homem ilustre, senão uma troca de maus humores durante o dia e de maus odores durante a noite. Nada mais verdadeiro. Uma mulher só pode amar apaixonadamente depois de Ter sido casada. Se eu a puder comparar com uma casa, diria que ela não é habitável senão quando um marido já lhe fez a faxina.
Quanto à dissimulação, todas a mulheres a têm para dar e vender nessas ocasiões. As mais simples são maravilhosas e livram-se com gênio das situações mais difíceis.”
Mas a jovem senhora mostrava-se incrédula.
“Não, doutor, só se sabe, passado o momento, o que se devia ter feito nas ocasiões perigosas, e as mulheres, é certo, perdem mais facilmente a cabeça do que os homens.”
O médico levantou os braços.
“Passado o momento, diz? A nós, os homens, a inspiração chega sempre tardia. Mas, a vocês!... A propósito, vou contar-lhe uma pequena história ocorrida a uma de minhas clientes, a quem eu daria absolvição sem confissão, como se costuma dizer.
O caso deu-se numa cidade de província.
Certa noite, em que eu dormia profundamente, nesse pesado primeiro sono tão difícil de perturbar, pareceu-me em um sonho confuso, que os sinos da cidade tocavam a incêndio.
Acordei de súbito: era a minha campainha, a da rua, que tocava desesperadamente. Como meu criado parecia não responder, agitei, por meu turno, o cordão pendido na minha cama; e logo bateram as portas, e alguns passos quebraram o silêncio da casa adormecida. Depois, Jean apareceu, trazendo-me uma carta que dizia:
“Mme Leliévre pede encarecidamente ao doutor Siméon o favor de passar imediatamente por sua casa.”
Refleti alguns segundos. Pensei: crise de nervos, vapores, bobagens, e estou muitíssimo cansado. E respondi:
“O doutor Siméon, bastante indisposto neste momento, roga a Mme Liliévre o favor de chamar seu confrade, o Sr. Bonnet.”
Meia hora mais tarde, aproximadamente, a campainha da rua soou de novo e Jean veio dizer-me:
“É uma pessoa, homem ou mulher, não sei, ao certo, de tal modo se oculta, que quer falar urgentemente com o senhor. Diz que vai nisso a vida de duas pessoas.”
Levantei-me.
“Mande entrar”.
Esperei sentado na cama.
Apareceu uma espécie de fantasma negro, que se descobriu quando Jean partiu. Era Mme Berthe Leliévre, uma senhora muito nova ainda, casada havia três anos com um gordo comerciante da cidade que passava por Ter desposado a mais linda moça da província.
Estava horrivelmente pálida, com essas crispacoes de rosto da gente angustiada, e as mãos trêmulas; tentou falar duas vezes sem que um único som lhe saísse da boca. Por último, balbuciou:
“Depressa... depressa... Doutor... Venha. Meu... meu... amante está morto no meu quarto...”
Parou, arquejante, e depois prosseguiu:
“Meu marido... voltará... em breve do clube.”
Saltei da cama, sem mesmo pensar que estava em camisa, e vesti-me em poucos segundos. Depois perguntei:
“Foi a senhora quem esteve aqui, há pouco?”
Ela, de pé como uma estátua, petrificada pela angústia, murmurou:
“Não, era a minha criada... ela sabe...” E uma espécie de grito de dor horrível saiu-lhe dos lábios e, depois duma sufocação que a fez arquejar, chorou, chorou perdidamente entre soluços e espasmos durante um minuto ou dois; as lágrimas pararam, estancaram, como secas, dentro, pelo fogo, e tornou-se tragicamente alma: “Vamos depressa!”, disse.
Estava pronto, mas resmunguei:
“Caramba! Não me dão tempo nem para atrelar o coupé.”
“Tenho lá embaixo um, - respondeu – o dele, que o esperava”; cobriu-se até os cabelos. Partimos.
Sentada a meu lado, na escuridão da noite, agarrou-me bruscamente a mão e, triturando-a em seus dedos finos, balbuciou com abalos na voz, abalos saídos do coração lancinado:
“Óh! Se o senhor soubesse como sofro! Amava-o, amava-o perdidamente, como uma insensata, havia seis meses.”
Perguntei-lhe:
“Estão acordados, lá em casa?”
Respondeu:
“Não, ninguém, exceto Rosa, que sabe de tudo.”
Paramos diante da sua porta; todos dormiam, com efeito; entramos sem fazer barulho e subimos na ponta dos pés. A empregada, consternada, estava sentada na primeira escada do alto, com uma vela acesa ao seu lado, sem coragem para ficar velando o morto.
Entrei no quarto. Tudo estava revolvido como depois duma briga. A cama amarrotada, machucada, desfeita, estava aberta, parecia esperar; um lençol arrastava-se até ao tapete; toalhas molhadas, com as quais tinham friccionado as fontes do rapaz, viam-se por terra, ao lado duma bacia e dum copo. E um singular cheiro a vinagre de cozinha, misturado com aromas de Lubin saía da porta, causando enjôos.
O cadáver, estendido de costas, jazia no meio do quarto.
Aproximei-me; observei-o, toquei-o, abri-lhe os olhos, apalpei-lhe as mãos; depois, voltando-me para as duas mulheres, que tiritavam como se estivessem geladas, disse-lhes:
“Ajudem-me a deitá-lo na cama.” E deitamo-lo com todo o cuidado. Auscultei-lhe, então, o coração e cheguei-lhe um espelho à boca. Depois, disse:
“Nada a fazer; vistamo-lo depressa.” E foi uma coisa horrorosa ver aquilo.
Peguei-lhe nos ombros um a um como se fossem dum enorme boneco, estendi-o sobre as roupas que as mulheres iam me dando. Calçamo-lhe as meias, vestimo-lhe as cuecas, os calções, o colete, depois o paletó, custando-nos muito enfiar-lhe os braços nas mangas.
Para apertar as botas, as duas mulheres puseram-se de joelhos, enquanto eu alumiava; mas como os pés tinham inchado um pouco, foi espantosamente difícil. Terminada a horrível toalete, examinei nossa obra e disse:
“É preciso penteá-lo um pouco.”
A empregada foi buscar o pente e a escova da amante; mas como tremia e arrancava, em movimentos involuntários, os cabelos longos e amaranhados, Mme Leliévre apossou-se violentamente do pente, e arranjou-lhe a cabeleira com doçura, como que o acariciando. Fez-lhe a risca, passou-lhe a escova pela barba, retorceu-lhe suavemente os bigodes com os dedos, como costumava fazer, decerto, nas intimidades do amor.
E, de repente, soltando o que tinha nas mãos, agarrou na cabeça inerte do amante, e olhou longamente, desesperadamente, para essa face morta, que não lhe sorria mais; depois, deixando-se cair sobre ele, estreitou-o nos braços, beijando-o com furor. Seus beijos caíam, como golpes, na boca fechada, nos olhos extintos, nas fontes, na fronte. Depois, chegando-se ao ouvido dele, como se ele pudesse ainda ouvir, como para pronunciar a palavra que torna os abraços mais ardentes, repetiu, dez vezes seguidas, numa voz dilacerante: “Adeus, meu amor.”
Mas no relógio soava a meia-noite.
Tive um sobressalto.
“Ohh, diabo, meia-noite, é hora de fechar o clube. Vamos, senhora, coragem!
Levantou-se. Ordenei:
“Levemo-lo ao salão.”
Pegamos os três nele e, levantando-o, sentei-o num canapé, acendendo depois os candelabros.
A porta da rua abriu-se e fechou-se pesadamente. Era o marido que entrava. Gritei:
“Rosa, depressa, traga-me as toalhas e a bacia; arrume o quarto. Mas despache-se, meu Deus! É o sr. Leliévre que chega.”
Ouvia os passos que subiam, que se aproximavam. E o marido, estupefato, parou à entrada da porta, de charuto na boca. Perguntou:
“Que há? Quem é? Que é isso?
Fui-lhe ao encontro.
“Meu bom amigo, estamos aqui num grande embaraço. Demorei-me até tarde em sua casa cavaqueando com sua esposa e este amigo, que me trouxe no seu carro. Mas, a certa altura, desmaiou, inesperadamente, e há duas horas que, apesar de todos os nossos esforços, ainda não conseguimos fazê-lo voltar a si. Não quis chamar gente estranha. Ajude-me, pois, a descê-lo; tratarei melhor dele em casa.”
O esposo, surpreendido, mas sem desconfiar, tirou o chapéu; depois levantou nos braços seu rival inofensivo. Eu atrelei-me entre as pernas do morto como um cavalo entre dois varais e eis-nos descendo a escada, que agora a mulher alumiava.
Quando chegamos à porta, endireitei o cadáver e falhei-lhe, dando-lhe coragem, para enganar o cocheiro:
“Vamos, meu bravo amigo, isso não é nada; já se ente melhor, não é verdade? Coragem, vamos, um pouco de coragem, faça um pouco de esforço e tudo passará.”
Senti que caía, que me deslizava nas mãos; propinei-lhe um grande soco nas costas que o lançou para diante o fez balançar no carro. Subi depois, atrás dele.
O marido, inquieto, perguntava-me:
“Será coisa grave?”
Respondi-lhe:
“Não”, sorrindo e olhando para a mulher. Ela havia dado o braço ao esposo legítimo e mergulhava o olhar fixo no fundo escuro do coupé.
Apertei-lhe as mãos e mandei tocar para casa do defunto. Durante todo o trajeto o morto se pendurou à minha orelha direita.
Quando chegamos à casa dele, anunciei que tinha perdido os sentidos no caminho. Ajudei a subi-lo ao quarto, depois dei a certidão de óbito; representava uma nova comédia diante daquela família inconsolável. Enfim, voltei para cama, não sem blasfemar contra os apaixonados.”
O doutor calou-se, sorrindo sempre.
A jovem esposa, crispada, perguntou:
“Por que me contou o senhor essa espantosa história?”
Fez-lhe uma galante reverência!
“Para lhe oferecer meus serviços, se a ocasião de apresentar.”
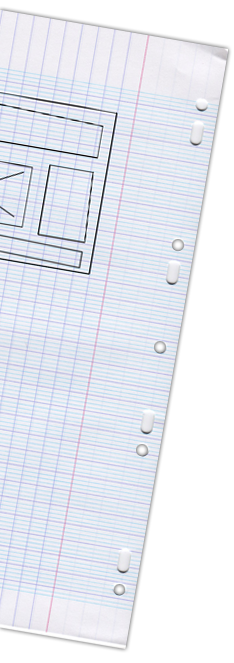




0 comentários:
Postar um comentário